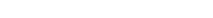Escritor foi o primeiro indígena a receber o título de Doutor Honoris Causa na UnB

Escritor foi o primeiro indígena a receber o título de Doutor Honoris Causa na UnB
Texto: Mônica Nogueira
Agraciado em 12 de maio de 2022 com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Brasília, Ailton Krenak é um dos intelectuais brasileiros mais influentes da contemporaneidade. Autor da trilogia Ideias para adiar o fim do mundo (2019), A vida não é útil (2020) e O amanhã não está à venda (2020), ele tem cativado um público amplo de leitores no Brasil e no mundo. Também se destaca por uma trajetória tão diversa, quanto marcante, especialmente no período de redemocratização do Brasil. A data de outorga do título pela UnB faz referência à criação da Aliança dos Povos da Floresta, em 12 de maio de 1989, iniciativa em que Krenak atuou fortemente, em articulação conjunta com o seringueiro Chico Mendes – assassinado em dezembro de 1988.
Em entrevista concedida à antropóloga e secretária de Comunicação da UnB Mônica Nogueira, com exclusividade para a revista Darcy, Ailton Krenak aborda temas como as articulações entre os povos na defesa de territórios tradicionais e seus bens naturais, colonialismo e a insurgente obra de Darcy Ribeiro e outros intelectuais brasileiros, a presença de indígenas nas universidades, arte e sonho. A diversidade de temas reflete a inquietude desse que são muitos em um: indígena, escritor, ativista, filósofo, artista, Ailton Krenak – que confidenciou gostar mesmo de ser reconhecido como um poeta místico.
Revista Darcy – O que foi a Aliança dos Povos da Floresta e qual o seu legado?
Ailton Krenak – A Aliança foi originalmente uma posição política em relação à questão fundiária na Amazônia, na transição entre os anos 1980 e 1990, envolvendo principalmente indígenas e seringueiros. Apesar de a gente ter se lançado no debate da redemocratização e ter estabelecido na Constituição Federal [em 1988] aquele princípio geral de reconhecimento dos territórios indígenas, o Estado brasileiro não estava fazendo nada para resolver o assunto efetivamente. Pelo contrário, estava marchando em cima da floresta, em uma situação tão alvoroçada quanto esta que nós estamos assistindo hoje, só que com um foco bem dirigido ao Acre.
Lá era uma espécie de última fronteira. Naquela época, havia uma frente ruralista muito agressiva, armada inclusive. Algumas terras indígenas eram coabitadas por indígenas e seringueiros. Havia também indígenas que viviam na condição de seringueiros, porque não tinham o reconhecimento do seu território. Esse era o caso dos Ashaninka, no Alto Juruá. Os seringueiros viviam em uma condição de semiescravidão, e as terras que ocupavam eram, muitas vezes, a porta de entrada para invasores dos territórios indígenas. Assim foi com os seringais contíguos ao território Ashaninka.
A reforma agrária feita pelo Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], na época, também aprofundava o problema. Cada família extrativista recebia um lote de cem hectares, repartia com parentes uma porção da terra e vendia o resto. Em cinco anos, já não havia floresta naquela área, apenas pequenos sítios falidos, que depois eram comprados para reconstituir os grandes latifúndios. Esse modelo de colonização arrasou Rondônia. Hoje, há empresas com 200, 300, cem mil hectares de terra no estado, ao longo da BR-364 que liga Porto Velho a Rio Branco.
No Acre, Chico Mendes e outras lideranças já vinham questionando, dizendo que não queriam os lotes do Incra. Mas o Estatuto da Terra não prevê propriedade coletiva. A maneira coletiva de ocupar a terra, admitida historicamente e garantida na Constituição Federal brasileira, são as terras indígenas. Então, indígenas e seringueiros viram que precisavam se articular, inclusive para reivindicar que os seringais passassem a ter uma regulação diferente, como aquela das terras indígenas.
As reservas extrativistas foram então se constituindo em um projeto político tão corajoso, que entusiasmou universidades e pesquisadores como os antropólogos Mary Allegretti, Mauro Almeida e Manuela Carneiro da Cunha. Eles perceberam que a aliança entre indígenas e seringueiros teria um papel decisivo no destino da floresta. A Aliança dos Povos da Floresta criou um campo de liberdade e de insurgência.
A reação a isso foi brutal! Um ano e meio depois do anúncio das reservas extrativistas, Chico Mendes foi assassinado – antes mesmo de ele ver uma reserva extrativista ser criada. O escândalo global do assassinato provocou a criação da primeira reserva extrativista, como um mea culpa. A partir daí, as universidades e instituições de dentro e de fora do Brasil, inclusive o Banco Mundial, passaram a considerar seriamente o uso coletivo da terra, combinando conservação e uso direto. Era uma novidade que o Brasil estava oferecendo para os países que têm florestas tropicais. Com esse reconhecimento, milhões de hectares de terra, que estavam em disputa fundiária, passaram a ser reservas extrativistas em Rondônia, no Acre, no Amazonas, no Amapá, no Pará, somando-se às terras indígenas como áreas de florestas protegidas.
A Aliança dos Povos da Floresta foi então uma novidade político-jurídica que mudou radicalmente o mapa fundiário da Amazônia, a partir dos anos 1990, e continua sendo importante, pois sustenta um projeto de vida para milhares de famílias na floresta.
Revista Darcy – E quais são os ecos da Aliança dos Povos da Floresta hoje?
AK – A última demonstração de que o sonho da Aliança dos Povos da Floresta é potente e está vivo foi quando a gente se reuniu [em maio de 2022] para refletir sobre os 30 anos de reconhecimento, demarcação e homologação da Terra Indígena Yanomami, a maior extensão de terra indígena na Bacia Amazônica. São aproximadamente dez milhões de hectares de área contínua.
Lá estavam representantes de mulheres do Xingu, do Tapajós e do Rio Negro, formando uma aliança entre três bacias hidrográficas da Amazônia para confrontar o discurso invasor, promovido pelo Estado brasileiro, pelo agronegócio, pela mineração e por essa ideia de progresso que eles estão tentando reanimar. Já havia sido então lançado um manifesto conjunto entre povos das três bacias (povos Yanomami, Ye’kwana, Kaiyapó, Xikrin e Munduruku), em uma aliança singular [a Aliança em Defesa dos Territórios].
De forma muito significativa, são as mulheres indígenas que estão liderando esse movimento. A geração da Txai Suruí, de jovens mulheres indígenas, está assumindo o debate nacional e internacional sobre o destino da floresta. Os pais dessas meninas, os tios e avós delas construíram a Aliança dos Povos da Floresta, que agora está dando frutos. Aquele maio de 1989 não foi um evento passageiro. Ele foi uma descoberta do potencial, da força que esses povos que vivem na floresta têm ao articular uma ideia de florestania. A Aliança dos Povos da Floresta é o prenúncio da florestania. É quando pessoas para quem foi negado até um documento civil se organizam em um levante, a partir da floresta, contra a arrogância dos sujeitos das cidades.
Revista Darcy – Seu nome é frequentemente associado à noção de sustentabilidade, mas você tem feito críticas contundentes a essa ideia ou, pelo menos, aos usos que se tem feito dela. Por quê?
AK – Nada é sustentável no mundo da mercadoria. Em A queda do céu (2015), Davi Kopenawa [escritor, xamã e líder político Yanomami] diz que, no mundo da mercadoria, só tem consumo. Assim, dentro do capitalismo não tem sentido falar em sustentabilidade. O que existe no capitalismo é uma prática predatória contínua, que não repõe nada, não deixa nada se reconstituir.
Os termos forjados a partir do relatório Nosso Futuro Comum, o também chamado Relatório Brundtland, são baseados em uma epistemologia do Norte – se tomarmos emprestada a ideia do Boaventura de Souza Santos. Quer dizer, é toda uma narrativa do Norte, dos países ricos, brancos que formulam propostas de sustentabilidade para o mundo que eles comem. Nesse sentido, é um discurso de manutenção do capitalismo, sem questioná-lo. Então, a ideia de sustentabilidade se adequa muito bem à doutrina neoliberal, apropriando-se das fontes de riqueza comuns do planeta, numa perspectiva particular, privatizante da água, dos fósseis, da floresta.
No Sul, onde estão as florestas tropicais, há outros modos de vida, outras histórias, outras cosmovisões, outra relação que se aproxima mais da máxima do Sumak Kawsay, que é andina. Porque esse lugar existe, onde é possível viver sem o sistema financeiro global, sem esse inferno todo que os poderosos acham ser a própria maquinaria para fazer funcionar o mundo. Em um estudo sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade, o literato José Miguel Wisnik diz que ele já denunciava essa maquinação do mundo, esse impulso desenfreado de predar o mundo. Drummond estranhava que isso fosse apresentado como a única maneira de viver, uma maneira total de viver que depende de devorar a montanha, comer a floresta e exilar as pessoas de seu território de origem.
Revista Darcy – Então é preciso investirmos na formulação de pensamento próprio para o enfrentamento dos desafios presentes?
AK – Podemos tirar uma pergunta dentro de outra pergunta, para uma análise histórica e sociológica desse problema. Por que o Brasil produz intelectuais que conseguem trazer visões críticas sobre nós – esse vasto coletivo que chamamos de brasileiros –, mas que são negadas? Dentre esses intelectuais podemos citar Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Josué de Castro. Esses intelectuais saem do nosso meio, são excluídos por intolerância e por uma negação do status quo da nossa capacidade de produzir pensamento legítimo. É uma espécie de submissão à lógica de que um povo colonizado não pode produzir respostas sobre si mesmo, que um povo colonizado vai ter sempre que pedir a diretriz, a orientação ao centro do poder político.
Essa submissão das nossas instituições de ensino superior ao conhecimento europeu está patente nas bibliografias dos cursos. A maior parte dos programas das universidades tem como motivação, como origem, uma tese já instituída e totalmente implementada no centro do poder, seja para a solução de problemas urbanos ou rurais. São poucas as soluções aplicadas que partem do conhecimento original daqui. A maioria quer fazer uma transposição do pensamento dominante para cá. O Brasil não conseguiu se livrar da sua síndrome de vira-lata e continua esperando um patrão branco vir ensinar as pessoas a viverem, inclusive dentro da floresta.
Revista Darcy – A presença indígena nas universidades pode contribuir para mudanças?
AK – Anunciamos com orgulho explícito haver mais de 50 mil jovens indígenas nos institutos e universidades brasileiras. Essa é uma novidade dos últimos 20 anos. Se isso representar uma nova abertura do pensamento geral, das instituições de pesquisa e ensino no Brasil, então eu aguardo com muita expectativa o que pode acontecer nos próximos dez anos, quando vamos deixar de ter só graduados e vamos ter gente mais experimentada para propor outros caminhos para o que chamamos de Brasil. Tomara que em um debate amplo, institucional, a gente também consiga se aproximar da questão andina. Afinal, o novo constitucionalismo latino-americano é um guia fundamental para que um país colonizado até a medula, como o Brasil, seja capaz de se transformar profundamente.
Revista Darcy – Qual o lugar da arte e do sonho nesse exercício?
AK – Quando nós falamos de povos da floresta, nós podemos dizer que estamos falando de povos do sonho e da arte. Eles habitam essa experiência de uma maneira celular, ou seja, está na pele, no corpo, no modo de pensar, na constituição da pessoa, na concepção do habitat. A casa é um artefato de arte, quando você chega no shabono yanomami ou quando você chega na maloca xinguana, isso fica evidente. A canoa que flutua sobre a água é arte! Os modernistas viram isso. Oscar Niemeyer viu isso.
O design brasileiro, por excelência, é desse lugar onde os povos da floresta sonham e revelam esses sonhos em objetos que não têm a pretensão de ser exclusivamente arte, mas que têm a natureza da arte. Habitar esse lugar é habitar um lugar de resiliência, de capacidade de suportar abusos e continuar produzindo sonho, produzindo vida. Esses povos conseguem atinar com aquilo que é a economia real, que é esse mundo materializado, mas não estão subordinados a isso. Quer dizer, são povos capazes de viver sem a moeda, sem o sistema financeiro global, porque já viveram milhares de anos antes dessa coisa ser inventada.